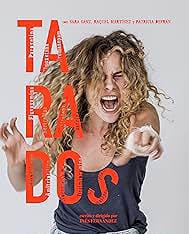Na Davos de 1996, o visionário John Perry Barlow já dizia aos “Governos do mundo industrial, cansados gigantes de carne e aço”, que deixassem a Internet em paz. Sua famosa Declaração de Independência do Ciberespaço estabelecia: “O espaço social global que estamos construindo é por natureza independente das tiranias que vocês procuram nos impor. (…) Seus conceitos legais sobre propriedade, expressão, identidade, movimento e contexto não se aplicam a nós. Eles são baseados na matéria”. A Rede queria ser livre, e os protocolos TCP/IP, a cola universal que unia todas as suas peças, haviam sido projetados para que as informações encontrassem sempre o caminho mais curto, mais seguro e mais barato para alcançar seu destino, alheios às fronteiras políticas e geográficas do mundo “real”. Desde então, sua ânsia de liberdade se deparou com diferentes graus de resistência dos Governos, que costuma administrar a expressão de dissidência com apagões seletivos, leis da mordaça e campanhas de propaganda ou desinformação. Uma nova estratégia se configura este ano: a independência. No final das contas, a Internet era sim matéria e começa a se desintegrar.
Apenas dois dias depois de a Internet completar 50 anos, em 29 de outubro, a Rússia declarou sua independência com uma lei de soberania digital. A legislação autoriza seu regulador de telecomunicações local a bloquear conteúdos, serviços ou aplicativos que considere uma ameaça à segurança do Estado, sem ordem prévia, processo ou notificação. Os critérios sobre o que constitui uma ameaça são tão opacos quanto seu plano de execução. E o conteúdo parece ser a Internet como um todo. A lei contempla a necessidade de um botão vermelho para bloquear a Web quando incomodar e um sistema próprio de gestão de domínios para “proteger os cidadãos russos de serem contaminados por conteúdos tóxicos” e a sua infraestrutura de ataques cibernéticos no exterior
O sistema de gerenciamento de domínio, ou DNS, é o que diz o que cada coisa significa na Internet, o diretório administrativo que conecta o nome de um site (exemplo: brasil.elpais.com) ao endereço IP do servidor em que se hospeda fisicamente o conteúdo ao qual está associado. É um dos pilares fundamentais da rede globalizada e foi criado em 1983 como um sistema hierarquizado, descentralizado e global. Com um sistema próprio administrado por seu Governo, os cidadãos russos não poderão mais usar redes privadas virtuais (VPNs, na sigla em inglês) para acessar conteúdos controlados ou se comunicar com o exterior.
BRICS, o supergrupo
A Rússia não está sozinha no caminho da autodeterminação digital. “Devemos respeitar o direito de cada país de governar seu próprio ciberespaço”, declarou o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante a Segunda Conferência Mundial da Internet, em Wuzhen, em 2015: “Nenhum país deveria buscar a ciberhegemonia ou interferir em assuntos internos de outros Estados”. A China não possui seu próprio DNS, mas a famosa muralha digital chinesa propiciou um sistema de crédito social baseado na vigilância e punição de seus cidadãos e, também, a expansão de suas três gigantes tecnológicas: Baidu, Alibaba e Tencent. E a do WeChat, um aplicativo que faz tudo (reúne as funções do Facebook, Instagram, Uber, Tinder, YouTube e Skype, entre outros) e serve para pagamentos com o celular e até dar esmolas para os sem-teto. É inegável que o modelo soberanista serve de incentivo para a economia local. A crise do coronavírus, por outro lado, é uma lição sobre suas consequências.
Li Wenliang, o oftalmologista do Hospital Central de Wuhan que primeiro denunciou a irrupção da epidemia, foi silenciado pelas autoridades e detido em 1º de janeiro por “disseminar rumores maliciosos” na Web. Sua morte no mesmo hospital, no dia 6 de fevereiro, mostrou que a densa rede de vigilância chinesa não servia para conter a propagação do vírus, pelo contrário. Naquela manhã, uma hashtag começou a se destacar no Weibo, a versão local do Twitter: “Exigimos liberdade de expressão”. À tarde tinha sido eliminada pelo regime. O coronavírus segue sua expansão letal, mas não haverá outra Tiananmen.
“A China está construindo sua própria Internet focada em seus próprios valores e está exportando essa visão da Internet para outros países”, lamentou Mark Zuckerberg em seu recente discurso de Georgetown. “Há uma década, quase todas as plataformas da Internet eram americanas. Agora, seis das dez primeiras são chinesas”. Em 2018, o cofundador do Google, Eric Schmidt, havia alertado em um evento em San Francisco: “A grande muralha da China nos levará a duas Internets diferentes: uma asiática, dominada pela China, e outra ocidental, dominada pelos EUA”. Nos últimos meses, o Conselho de Segurança da Federação Russa também anunciou a criação de uma “infraestrutura de rede independente”, junto com a China, o Brasil, a Índia e a África do Sul, o supergrupo de grandes economias emergentes conhecido como BRICS. Se for levada adiante, essa outra Internet ocuparia 25% da superfície planetária e serviria a mais de 40% da população mundial.
“Na verdade, esse espaço utópico e cosmopolita nunca existiu”, explica por email Evgeny Morozov, ensaísta bielorrusso e autor de The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. “As teorias que formaram nossa percepção da Internet –a aldeia global, o ciberespaço sem lei, o internauta como um cidadão desvinculado do Estado nacional– estão muito longe da realidade”, acrescenta. “Era um pouco como acreditar que o mercado universal, uma vez alcançados todos os cantos do mundo, teria um efeito homogêneo em todos os lugares.” De fato, vários dos países que abriram a década com a explosão de otimismo da primavera árabe a encerram com apagões, repressão e censura. A Internet não é apenas matéria, mas pode acabar sendo como as reservas de petróleo; em princípio, deveria melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas, quando brota nas democracias mais frágeis, transforma-se em maldição.
O bloco halal
“Observando os dados, não vemos uma incidência maior no número de bloqueios, mas em sua magnitude e gravidade”, explica Alp Toker, diretor da Netblocks, uma organização que observa os bloqueios, restrições e ataques cibernéticos em tempo real. A Índia tem o recorde de apagões, com 134 cortes em 2018, e a Caxemira está sem Internet desde agosto de 2019, exceto por uma centena de páginas que o Governo indiano desbloqueou há três semanas. O Paquistão vem logo atrás, seguido pela Síria e a Turquia. Mas a incidência mais notável ocorreu em 15 de novembro, quando o Irã bloqueou o acesso à Internet a 97% de sua população.
O Irã fez isso no momento em que começaram as manifestações em massa por causa do aumento do preço do combustível. Exceto por algumas contas do Governo, foi um blecaute total (Internet, telefone, dados, SMS). Um evento sem precedente. Embora tenham ocorrido milhares de apagões, nunca um país inteiro havia saído da Rede. Enquanto a mídia tenta verificar durante o apagão o número de mortes que ocorreram nos protestos, os engenheiros tentam elucidar como conseguiram retirar da Internet 80 milhões de pessoas de uma vez. O fato é que o Governo trabalha há anos em uma Internet halal, alinhada ao islã: a National Information Network. “O país não tolera uma rede social que tem sua chave nas mãos dos Estados Unidos”, disse o aiatolá Ahmad Khatami há dois anos.
Obviamente, existe um nicho de mercado para uma Internet muçulmana. Para além dos valores religiosos, segundo Katherine Maher, diretora-executiva da Wikimedia Foundation, há mais de 350 milhões de pessoas que falam árabe no planeta, mas seu idioma ocupa menos de 1% da web. Em 2016, a start-up malasiana Salam Web Technologies lançou um navegador restritivo alinhado aos valores islâmicos, chamado SalamWeb, que atende usuários da Malásia e da Indonésia, mas quer expandir-se por todo o mundo islâmico. Inclui seu próprio agregador de notícias, rede social e sistema de mensagens, o SalamChat. “Isso não é necessariamente ruim. Ter a própria infraestrutura pode promover um ecossistema econômico próprio e introduzir alternativas locais às plataformas multinacionais”, diz Toker. E acrescenta: “Mas quando isso é feito às custas da conectividade mundial, é um problema de direitos humanos e liberdade de expressão. E não há ninguém vigiando. Estamos tão focados em nossos debates internos que o ecossistema digital está se decompondo e com ele a possibilidade de debate mundial”.
Uma nova guerra fria
Há aspectos do divórcio que transcendem o colonialismo cultural, a perda de diversidade e a polarização do debate. De acordo com o relatório do Oxford Internet Institute sobre propaganda e desinformação, o Irã é um dos sete países que implementam operações de influência estrangeira, junto com China, Rússia, Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Venezuela. Sua relação com a guerrilha digital é intensa e pós-traumática: foi o alvo do primeiro ataque cibernético projetado para destruir a infraestrutura industrial. O Stuxnet foi um vírus insidioso que destruiu mil centrífugas em seu centro de enriquecimento de urânio em 2010 e abriu um mundo de possibilidades aterrorizantes para a guerra cibernética. De acordo com o arquivo de documentos de Snowden, naquele momento o Irã era o país mais vigiado do mundo, tanto pelos EUA quanto por Israel.
O Irã aprendeu a lição: a Rede Global permite causar muitos danos com poucos recursos. Agora, o país “tem a capacidade e a tendência de lançar ataques destrutivos”, declarou recentemente Christopher C. Krebs, diretor de segurança cibernética e infraestrutura do Departamento de Segurança Interna dos EUA. “É preciso ter a consciência de que qualquer ataque poderá ser o definitivo”, acrescentou. Sua divisão lhe atribuiu muitos ataques, incluindo o dos seis principais bancos dos Estados Unidos. O malware iraniano destruiu 35.000 computadores da companhia estatal de petróleo Saudi Aramco em 2012. Foram necessários dezenas de milhões de dólares para reconstruir o sistema. Desde então, especializou-se em atacar infraestrutura industrial –um terapeuta chamaria isso de compulsão de repetição– entre os vizinhos mais próximos, como sua arqui-inimiga Arábia Saudita.
“A segurança é um espaço multidimensional no qual diferentes objetivos e diferentes atores competem”, explicou David D. Clark, arquiteto-chefe da Internet nos anos 80 e autor do recente e imprescindível Designing an Internet, em uma conferência na sede do Google há pouco mais de um ano. “Para construir uma Internet segura, você deve firmar um compromisso pelo qual todos e cada um dos atores desejem que a sua solução sobreviva”, acrescentou. Mas o que acontece quando esse compromisso desaparece e duas visões antagônicas ocupam o seu lugar?
Proteger-se do outro
“O Irã é um dos atores mais sofisticados”, diz por telefone Bruce Schneier, autor, consultor e um dos maiores especialistas em segurança cibernética. “Ataca empresas, ataca bancos, ataca usinas elétricas, ataca indivíduos. Mas não acho que a balcanização seja principalmente um problema de segurança, acho que o principal problema é de controle e propaganda. A Rede global acabou. Isso já é ruim o bastante.” E complicado. Como se gerencia o divórcio quando a infraestrutura de uma das partes ocupa grande parte da outra? Como nos protegemos de uma China que se torna independente da mesma Rede que depende do 5G da Huawei? “Bem, teremos que ver como isso se desdobra”, ironiza Schneier. “Como não há um ditador da Internet capaz de impedir esse tipo de coisa, tudo pode acontecer.”
Entre os especialistas, há nuances. “No momento, o que estão criando são Internet separáveis, e não separadas”, explica Ángel Gómez de Ágreda, coronel da Força Aérea espanhola, ex-chefe de cooperação do Comando Conjunto de Defesa Cibernética e autor do recente Mundo Orwell: Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. “Isso nos prejudicará no crescimento porque vai fraturar os mercados e, do ponto de vista da segurança, é o equivalente ao escudo antimísseis: ‘Eu posso atirar em você, mas você não pode atirar em mim.’ Estamos criando um mundo medieval, de castelos, onde as vulnerabilidades de uns e de outros serão diferentes.” Entre os dois modelos antagônicos da Rede –global e soberano–, um espectro de países parece não ter voz nem voto nessa separação. “Nós estaremos com o padrão americano e isso não significa que seja perfeito.” Permaneceremos no bloco de uma Rede dominada por plataformas comerciais, um modelo de negócio baseado na exploração maciça de dados que produziu sua própria família de patologias.
“É fácil atacar a ideia da balcanização da Rede argumentando que os maus querem controlar a Internet. Mas, o que aconteceria se fossem os países democráticos, como aconteceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) ou com o direito de ser esquecido?”, argumenta Morozov. “Não estou preocupado com a balcanização da Rede, pois, de qualquer forma, trata-se da desvinculação da esfera econômica e digital controlada pelos Estados Unidos. Os meios de comunicação, por exemplo, possuem regulações diferentes, mesmo dentro da União Europeia –o que é aceitável na Noruega, pode não ser na Itália, e vice-versa. Por isso não acho que devamos nos preocupar com discordâncias na esfera digital só porque nossa concepção original da Internet é um mito de universalismo impossível.”
“A Espanha sozinha não tem margem de manobra”, diz o coronel Gomez de Ágreda, “o que temos, sim, que fazer na Europa é nos perguntar se queremos pertencer a um dos sistemas que estão sendo montados ou ter o nosso sistema separável”. De certa forma, a Europa já faz isso. O RGPD de 2018 separa legalmente os usuários europeus daqueles do restante do mundo. “Podemos criar uma Internet com nossas próprias regras”, conclui Gómez de Ágreda. “Um núcleo de países com os quais compartilhamos uma série de valores.” E esclarece que não se refere estritamente à União Europeia. Isso também começou a se romper.
Com El País